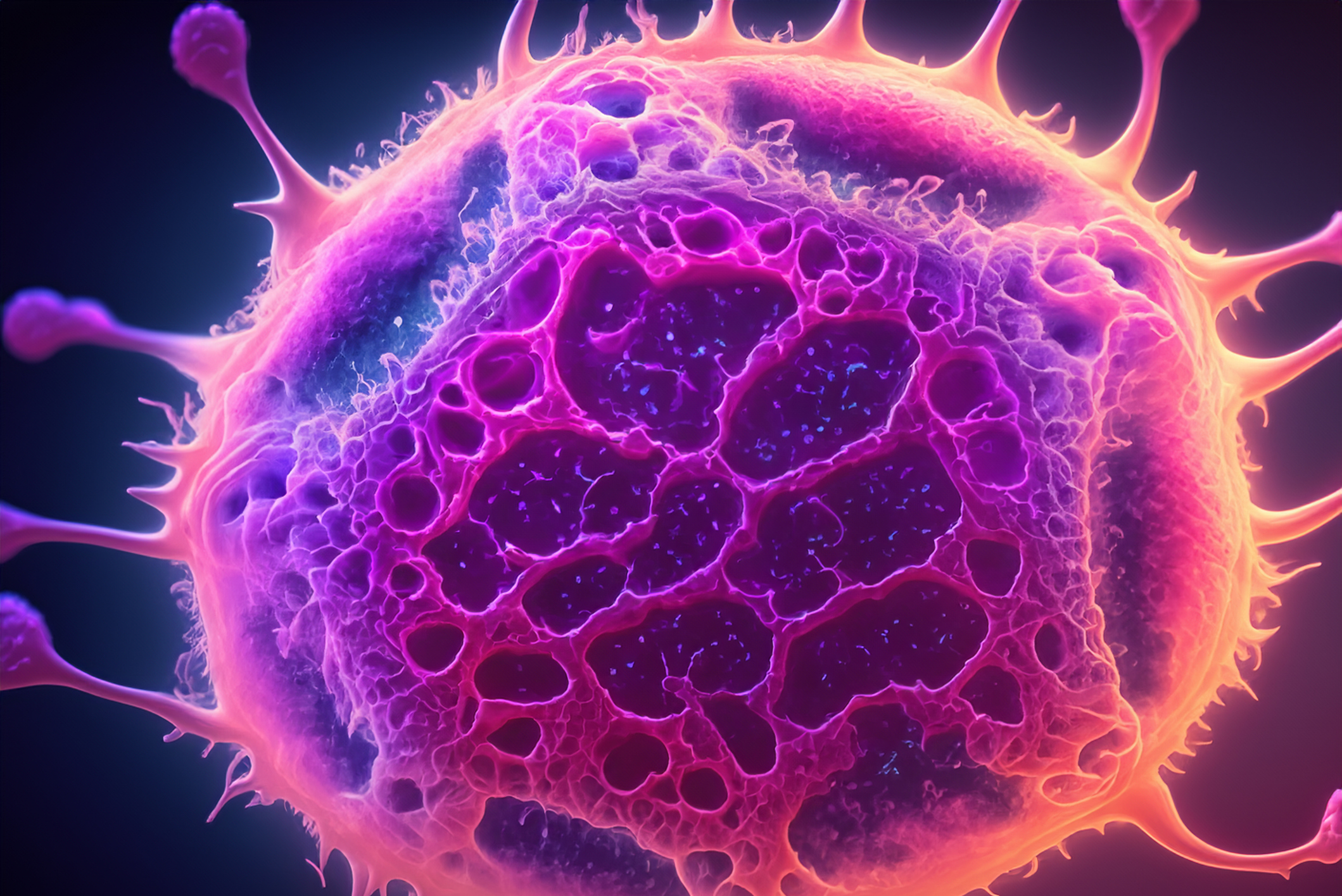O facto de a actividade física regular equilibrada – isto é, o desporto – ter inúmeros efeitos positivos para a saúde pode ser considerado como bem conhecido. Foi também demonstrado convincentemente que o esforço necessário para alcançar um efeito perceptível pode ser bastante modesto. Mas e quando se aumenta a intensidade e se praticam desportos de elite? Os efeitos promotores da saúde desenvolvem-se de forma linear?
Repetidamente, é relatado que o atleta X tem de parar o seu desporto numa idade em que outros ainda estão plenamente activos, por exemplo, devido à artrose da anca, ou que o atleta Y só pode ser posto em acção através de injecções. O desporto só pode realmente ser praticado ao mais alto nível à custa da saúde? Se se contar com enumerações das várias lesões e danos sofridos por atletas competitivos famosos, a resposta à pergunta acima referida teria de ser “sim”. Ou, dito de outra forma: a forma como o desporto de alto nível é hoje praticado não é saudável.
Mas o que entendemos por desporto de alta competição?
Um atleta competitivo é aquele que treina sistematicamente, individualmente ou em equipa, e frequentemente se empurra para os seus limites físicos pessoais. Na maioria dos casos, o atleta competitivo compete. Com esta definição, cobrimos muito mais pessoas do que apenas os famosos profissionais, porque, como sabemos, há inúmeras pessoas que se exercitam quase todos os dias – e por vezes de uma forma impressionante.
Morte cardíaca súbita – famosa e temida
Provavelmente a pior coisa que pode acontecer durante as actividades desportivas são mortes e lesões da espinal-medula, provavelmente porque normalmente afectam jovens atletas (supostamente) saudáveis. Nos últimos anos, tem havido muitos relatos de mortes súbitas associadas ao desporto – a morte inesperada de origem cardíaca que ocorre durante a actividade desportiva ou dentro de uma hora de desporto. As causas deste trágico acontecimento têm sido cada vez mais investigadas ao longo do tempo (em pessoas com menos de 35 anos, trata-se principalmente de cardiomiopatias, depois principalmente de doenças coronárias). Felizmente, a incidência é bastante baixa a 0,3-3/100.000 atletas por ano, graças também a medidas preventivas eficazes (exames médicos desportivos).
Morte no desporto
Existe informação parcialmente contraditória sobre a mortalidade total em relação ao desporto intensivo. Não há muito tempo, autores franceses relataram num artigo muito citado que os participantes franceses no Tour de France vivem mais tempo do que os seus compatriotas (não obstante o desporto de alto rendimento e o doping). Os autores compararam um total de 768 ciclistas franceses que tinham participado no Tour de France pelo menos uma vez entre 1947 e 2012 com a população normal da mesma idade. No final do estudo, 26% dos corredores observados tinham morrido; a taxa de mortalidade era assim significativamente inferior à da população normal (nomeadamente cerca de 41%).
Os resultados são tranquilizadores à primeira vista, mas não permitem tirar quaisquer conclusões directas sobre a nocividade do doping. Além disso, um excelente conhecedor da cena ciclística francesa conseguiu demonstrar o contrário num documento semelhante, onde a recolha de dados sobre mortes foi feita com muito mais cuidado!
Futebolistas e ALS
O fenómeno da dopagem também é suspeito na seguinte observação: parece que os futebolistas profissionais têm um risco acrescido de desenvolver esclerose lateral amiotrófica (ALS). Esta descoberta é conhecida há anos, mas as causas permanecem obscuras. O que tem sido demonstrado repetidamente com base em casos individuais foi recentemente confirmado por um grande estudo. Um grupo italiano examinou os registos médicos de 7325 futebolistas profissionais que jogaram na primeira ou segunda divisão italiana entre 1970 e 2001. Estatisticamente, há uma incidência de 0,77 casos de ALS por 100.000 pessoas. De facto, no entanto, os investigadores identificaram um total de 34 antigos profissionais italianos, 30 dos quais morreram desde então. Isto resultaria numa incidência de nada menos que 465/100.000. Foi também observado um conjunto de casos de ALS em jogadores de futebol americano, bem como em futebolistas profissionais da Primeira Liga Britânica e da Bundesliga Alemã.
Mas quais são as causas desta acumulação misteriosa? Alguns investigadores suspeitam de uma ligação com a ingestão de preparações dopantes, mas não há provas para esta tese. Como os futebolistas são frequentemente afectados e não os ciclistas, alguns cientistas acreditam que os muitos cabeçalhos durante o jogo são a causa das doenças. Mas também não excluem as toxinas ambientais utilizadas na manutenção da relva de futebol como causa.
Lesões agudas e sobrecargas crónicas
Provavelmente o maior risco para o atleta competitivo, porém, reside nas várias lesões agudas e sintomas crónicos de uso excessivo que afectam predominantemente o sistema músculo-esquelético. Nos últimos anos, os epidemiologistas trabalharam diligentemente e recolheram muitos dados fiáveis sobre o número de traumatologias desportivas em grandes eventos (Jogos Olímpicos, Verão, Inverno e campeonatos mundiais em vários desportos).
A fonte de informação mais informativa, contudo, é uma publicação dos peritos médicos da UEFA, a Associação Europeia de Futebol. Durante onze anos, todos os ferimentos e sinais de uso excessivo que levaram à ausência de treino ou jogos foram registados com uma meticulosidade espantosa em 24 equipas de topo. A conclusão deste estudo é que com um plantel de 25 jogadores, são de esperar cerca de 50 lesões por época – por outras palavras: 12% do plantel está constantemente impossibilitado de jogar ou treinar. Imagine uma situação semelhante na vida de trabalho “normal”! Um estudo semelhante do Reino Unido chegou mesmo a afirmar que a taxa de lesões no futebol profissional era 1000 vezes mais elevada do que nas profissões de alto risco. Mesmo que muitas destas deficiências de saúde não pareçam dramáticas a priori, têm um elevado potencial de deficiência, com todos os inconvenientes (também de natureza económica).
Nestes eventos traumáticos, as consequências das lesões na cabeça, tal como ocorrem em vários desportos de equipa, devem ser realçadas. Nos últimos anos, tem-se falado cada vez mais da chamada encefalopatia traumática crónica (antigamente demência pugilistica) com distúrbios cognitivos precoces e mesmo demência. De facto, as concussões são demasiadas vezes banalizadas – certos relatórios consideram os impactos repetidos na cabeça, tais como os vistos no futebol, como um risco potencial de dano.
O que teria de mudar no desporto de elite?
Deste ponto de vista, o desporto de elite não é, de forma alguma, saudável. Mas isto também pode ser diferente. Existem razões conhecidas para a ocorrência de tantos ferimentos e danos. Os médicos desportivos, aqueles que trabalham nesta área, conhecem estas razões. A prevenção seria, portanto, possível, mesmo comprovada. Mas infelizmente, há muito poucos médicos desportivos, e eles não têm muitas hipóteses nos clubes e nas federações. Se esta circunstância pudesse ser alterada, seria bastante concebível conceber o treino de tal forma que não seria perigoso mas benéfico para o atleta. No caso de lesões menores inevitáveis, dar-se-ia ao trabalho de fazer imediatamente um diagnóstico correcto e organizar um tratamento profissional. Poderiam ser dados conselhos adequados de nutrição e recuperação ao atleta e os oficiais desportivos criariam programas de competição mais inteligentes. Poderiam ser implementadas regras de competição mais sensatas que não obrigassem os atletas a ter um desempenho constante acima dos seus limites de desempenho.
É admissível sonhar um pouco – mas também de forma bastante realista, o desporto de alto nível, praticado em condições óptimas, poderia tornar-se uma coisa ainda mais fascinante porque já não seria tão perigoso. Seria então mais fácil acreditar em estudos que documentaram bem que, de acordo com o lema “LLL = corredores longos vivem mais tempo”, grandes coortes de atletas olímpicos têm na realidade uma esperança de vida mais longa do que os não-atletas.
PRÁTICA DO GP 2015; 10(7): 6-7